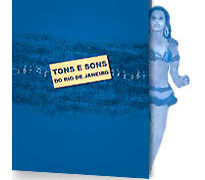Há muito o Brasil não experimentava em uma só quinzena a confluência de acúmulos de máscaras tombadas ao chão. Isso ao nos deparar com a conjugação insensata de duas crises seríssimas. A crise política, patrocinada pelo Presidente da República, teve início com a inesperada (ou esperada) substituição do Ministro da Saúde, e culminou dias depois com a também inesperada (ou esperada) demissão do Ministro Sérgio Moro.
O Juiz, um quase herói nacional e avalista desde o começo do atual governo na luta contra a corrupção, foi obrigado a se despir da máscara de ministro para envergar de imediato uma outra, a de acusação às intenções do próprio presidente.
Quando me refiro nesta crônica a máscaras, antes mesmo das necessárias máscaras higiênicas contra a pandemia, acode-me de imediato a utilização poética delas, cuja culminância sempre adentrou o carnaval a partir de tempos medievos, ou seja, os bailes mascarados de Veneza.
Os folguedos no Brasil privilegiaram as máscaras desde sempre. Ocorre-me agorinha mesmo duas preferidas minhas, não nego, e que cabem como paráfrase à ambas as crises a que me refiro, a político-moral e a pandêmica-hospitalar.
Quando acompanhava, perplexo, as acusações entre Moro e Bolsonaro, recebi telefonema de amigo querido, compositor de notoriedade, a cantarolar o samba de Luiz Antônio -“Máscara da Face”, sucesso do carnaval de 58, pela voz de Linda Batista -“deixou, deixou, deixou/deixou cair a máscara da face/mostrou, mostrou, mostrou por fim/que nunca teve classe”. Como dizia o poeta, sua máscara um dia vai cair, afinal toda cobra troca de pele.
Ao questionar a quem meu interlocutor se referia a resposta foi rasteira – adivinha…, e gargalhou do outro lado da linha.
Embalado, ou melhor regalado, pela cantoria do amigo para tipificar a insatisfação do procedimento pessoal do presidente, retruquei com uma das minhas melodias de coração, cantarolando a Noite dos Mascarados, obra primicial do ganhador do prêmio Camões Chico Buarque. É uma marcha em dueto cujo verso inicial seria a resposta que indagava ao meu interlocutor sobre “quem nunca teve classe”. O dueto buarquiano pergunta –“quem é você/adivinha se gosta de mim/hoje os dois mascarado/procuram seus namorados/perguntando assim,/quem é você/diga logo/que quero saber seu jogo…”. O beneficiário do jogo estaria claro como água, e não seria senão quem tivesse a caneta para nomear quem lhe aprouvesse.
Aliás, sobre isso dois outros poetas cunharam pensamentos oportunos. Ledo Ivo, impositivo, declarou que “na vida precisamos usar máscara/pois ninguém nos reconheceria de rosto nu”. Enquanto Octávio Paz se sentia prisioneiro da hipocrisia “estamos condenados a inventar uma máscara, e descobrir depois que ela será nosso rosto verdadeiro…”.
Enquanto a crise política continua a vicejar, a epidemia cresce. Por isso, me valho de dois versos ainda do Chico –“eu quero morrer no seu bloco/eu quero me arder no seu fogo”. Claro que me refiro à carapuça dupla, a do morrer no bloco dos que se arriscam sem máscaras pelas ruas, e a do arder no fogo dos leitos insuficientes e mal equipados.
Devo dizer que meu desconsolo procede. De fato, me tomei de perplexidade nesta semana do fim de abril ao ver dezenas de pessoas no calçadão da Urca, onde me confino, todas sem máscaras, falseando o isolamento, bebendo cerveja como se não houvesse amanhã.
Entendi uma verdade, com amargura: essa população que eu observava teria que usar camisa de força, no lugar de máscaras e álcool em gel. E depois seguiriam para o hospício e não mais para hospitais lotados. Embora desconfie que os hospícios poderão até estar mais cheios.
Resumo minha solidariedade aos infectados com frase profética de Caio Fernando Abreu, “a dor é a única emoção que não carece de máscara”.
Ricardo Cravo Albin