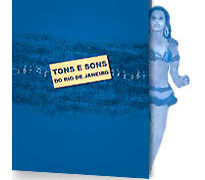Baixe o ensaio A música, o canto e a dança em pdf. Ou leia agora na integra:
A música, o canto e a dança estiveram muito presentes entre os primeiros habitantes desta terra, que inclusive fabricavam alguns toscos instrumentos musicais que ainda podem ser encontrados, ou seus descendentes, em festas do folclore. Mais atuante nos ritos e nas celebrações, a experiência musical dos indígenas brasileiros foi apenas modestamente transmitida a esta bendita mestiçagem que chamamos hoje de cultura popular brasileira. Justamente ao contrário de tantas palavras extraídas dos idiomas indígenas, que foram incorporadas ao português trazido pelas caravelas, tornando-o capaz de nomear a natureza local, costumes e práticas aqui adquiridos, e depois se mostraram tão ativas em nossa literatura. Talvez, tenha nos ficado, sim, do nosso antepassado pré-cabralino, um forte sentimento de musicalidade, e certa sensualidade, tanto ingênua quanto epidérmica (ou talvez uma porque a outra), em vez de ritmos e temas como no caso da música negro/africana, que marca presença nítida e permanente em nosso repertório.
O que de praxe se aponta como a primeira manifestação musical no Brasil (mais do que brasileira) não poderia deixar de ser a que nos chegou junto com os colonizadores portugueses. Trata-se da música religiosa, com a qual os jesuítas buscavam dois objetivos simultâneos: de um lado, catequizar os índios, infundindo-lhes a religiosidade através da mística do canto, que de todo modo já tinha para eles um sentido espiritual; e, de outro, um propósito mais sutil, embora não menos crucial e missionário, lembrar ostensivamente ao colono português que estar habitando, às vezes em degredo, esta nossa terra tão lasciva, em meio a índios e negros nus, não poderia fazê-lo perder a consciência de que cristãos eram e como cristãos deveriam se portar. Como bem conta a já referida mestiçagem de nosa epiderme, e de nosso espírito, nesse segundo propósito os catequisadores falharam.
Assim, nos três primeiros séculos de colonização, o que existiu foram bem definidas e isoladas formas musicais. Os cantos para as danças rituais dos índios e os batuques dos escravos, a maioria dos quais também rituais. Ambos fundamentalmente à base de percussão: tambores, atabaques, tantans, palmas, apitos, etc. Em outro extremo do cotidiano, sem se misturarem, as cantigas dos europeus colonizadores que tinham origem nos burgos medievais dos séculos XII a XIV. Fora desse tipo de música, o hinário religioso católico dos padres. Ainda a registrar os toques e as fanfarras militares dos exércitos portugueses aqui aquartelados.
Justamente quando a música dessacralizou-se, ou mundanizou-se, ou ainda quando ao mesmo tempo deixou as casernas, ou, como queiram, escapou das igrejas e da ordem unida e ganhou as rodas públicas, é que se pode começar a falar numa música popular brasileira. Numa palavra, quando se miscigenou com apetência e liberdadee.Isso se deu ainda no século XVII, com artistas cujos nomes a história esqueceu. Um dos mais remotos registros de canto popular é do grande poeta satírico Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, que, mesmo já velhote, tentava seduzir as escravas mais apetitosas do Recôncavo Baiano, cantando versos frascários ao som de uma viola de arame…
Peças amores e finezas,
Peças beijos, peça abraços;
Pois que os abraços são laços,
Que prendem grandes firmezas;
Não há maiores despesas,
Que um requebro, e que um carinho;
Gregório de Matos Guerra nasceu em Salvador, em 1633, e morreu em Recife, em 1696, depois de passar anos degredado em Angola, expulso do país por um dignitário atingido por sua pena ferina. Sobre sua forte ligação com a música, comenta Segismundo Spina, na notícia biográfica que introduz sua antologia do poeta[1]:
A licenciosidade que perdurou mais tarde nos versos de nossa poesia é uma herança desse “Petrarca sertanejo” que aperfeiçoou o lundu, tão em voga na Colônia. O lundu, de origem portuguesa ou quimbunda, bem como outras danças populares portuguesas que haviam sido condenadas pela Inquisição e pelos jesuítas, conservou-se com toda a sua pujança no Brasil, sobretudo na época de Gregório. O lundu era uma dança dengosa, cantada e executada com todos os ritmos e voluptuosidades da coreografia. De todo o folclore nacional é o lundu a melhor forma de manifestação do tropicalismo dos mestiços, a expressão mais viva do sensualismo das mulatas eróticas e ciosas. Mais tarde, essa forma frenética, que emigrou da África, com o desaparecimento da vivacidade e do requebro peculiares, passou a ser cantada ao som da viola e da guitarra, como evocação das saudades, evoluindo então para as modinhas, de criação americana, que tanto fizeram chorar a viola de Gregório e tanto caracterizaram o folclore dos séculos seguintes em Portugal e no Brasil. Gregório foi, pois, o “Homero do Lundu”, que ele tanto aperfeiçoou e com o qual impressionou a estância do recôncavo durante o tempo do seu reinado.
Pelo final do séc. XVIII, outro tocador de viola, o poeta carioca Domingos Caldas Barbosa, deixou o Rio e foi para Portugal. Logo se tornou conhecido como intérprete de modinhas e lundus.
Caldas Barbosa é considerado por todos como o responsável pela fixação do gênero modinha e também do lundu na Lisboa da segunda metade do século XVIII. Em 1790, funda, juntamente com outros poetas (dentre os quais Curvo Semedo e Bocage), a Nova Arcádia de Lisboa. Adota o pseudônimo de Lereno Selinuntino, que usa para dar título à sua coleção de poemas, sobre os quais compôs modinhas e lundus: a Viola de Lereno (Publicados postumamente: Lisboa, vol. 1, 1798; vol. 2, 1826). Segundo Mozart de Araújo, apesar de todos os poemas da coleção terem sido musicados, somente uma das obras nos chegou com melodia: Ora, a Deos Senhora Ulina. A modinha está publicada nas páginas 98 e 99 do livro A modinha e o lundu no século XVIII, deste autor. Já Mário de Andrade afirmou o seguinte em Modinhas imperiais: “a proveniência erudita européia das modinhas é incontestável”. Hoje, muitos estudiosos consideram tal suposição incorreta, justamente por levarem em conta a vida e a obra de Caldas Barbosa. Segundo Tinhorão, em sua Pequena história da música popular brasileira [2], todos os contatos do compositor “terão sido com mestiços, negros, pândegos em geral e tocadores de viola, e nunca com mestres de música eruditos”. Assim sendo, a importância do compositor mestiço se fez no trabalho de transpor a distância entre a cultura popular e a cultura erudita, levando para os salões aristocráticos o produto artístico popular da colônia do além-mar: a Modinha brasileira.
Considero muito importante ressaltar, desde logo, que a consolidação da música popular constitui uma criação que é contemporânea ao aparecimento das cidades. E deve-se deixar claro também que música popular só pode existir ou florescer quando há povo. Atentem, por exemplo, para esta aguda observação que Mário de Andrade faz ao romance Memórias de um sargento de milícias, escrito por Manuel Antônio de Almeida (1831-1861) e ambientado no Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XIX, durante a estada da Corte de D. João VI cá por estas terras. Ele ressalta a música acompanhada da viola e cantada e a dança como hábitos (e prazeres) muito mais disseminados nos tempos do Rei do que se pensa:
Manuel Antonio de Almeida é musicalíssimo… O romance está cheio de referências musicais de grande interesse documental. Enumera instrumentos, descreve dansas, conta o que era a “música dos barbeiros” nomeia modinhas populares do tempo do império.”
Quando as classes perigosas – como eram chamados pelas elites os mais modestos – se divertiam, isso até podia virar caso de polícia. Não são poucos os episódios no livro de Almeida em que o notório Major Vidigal, figura quase folclórica da época, invadia as casas onde estivessem tocando viola e cantando, as chamadas súcias, na época, coisa muito suspeita… “O major Vidigal … foi durante muitos anos, mais que Chefe, o dono da polícia colonial carioca. Habilíssimo nas diligências, perverso e ditatorial nos castigos, era o horror das classes desprotegidas do Rio de Janeiro”.
“Como está se vendo, um dos grandes méritos das Memórias de um sargento de milícias é ser um tesouro muito rico de coisas e costumes da época”[3]… Com efeito, porque já nestas observações, Mário de Andrade capta registros do livro sumamente importantes.. Não é a toa que assumem tanta importância a música e a dança populares no romance ambientado justamente no momento em que o Rio de Janeiro começa a crescer, dada a importância política e cultural de haver se tornado a nova Matriz do Império. Outro dado a considerar: a música de que tratamos aqui, em seu início, por conta de sua raiz popular, foi bastante reprimida por muito tempo e de diversas maneiras, assim como outras manifestações dos mais humildes.O populacho era para obedecer, jamais para ter a insolência de deitar modas e costumes… Para as elites, tudo isso poderia ser política e estrategicamente inconveniente, quando não perigoso.
Os gêneros mais populares da primeira metade do século XIX eram o lundu e a modinha (só no último quarto do século surgiria o maxixe, visto por muitos como o primeiro gênero musical autenticamente brasileiro).
O lundu (landum, lundum, londu) é dança e canto de origem africana introduzido no Brasil provavelmente por escravos de Angola. Da mesma forma que a modinha, há inúmeras controvérsias quanto à sua origem. Confundido inicialmente com o batuque africano (do qual proveio), tachado de indecente e lascivo nos documentos oficiais, que proibiam sua apresentação nas ruas e teatros, o lundu, em fins do século XVIII, não era ainda uma dança brasileira, mas uma dança africana do Brasil. Segundo Mozart de Araújo, é a partir de 1780 que o lundu começa a ser mencionado nos documentos históricos. Até então, era dada a denominação de batuque aos folguedos dos negros.
Como dança, a coreografia do lundu foi descrita como tendo certa influência espanhola pelo alteamento dos braços e estalar dos dedos, semelhante ao uso de castanholas, com a peculiaridade da umbigada, ponto culminante do encontro lascivo dos umbigos do homem e da mulher na dança.Traço característico e predominante em sua evolução seria o acompanhamento marcado por palmas, num canto de estrofe-refrão típico da cultura africana. Quando a umbigada passa a se disfarçar como simples mesura, o lundu ensaia sua entrada nos salões da sociedade colonial.
Como gênero de música cantada, a mais antiga menção ao lundu-canção é encontrada nos versos de Caldas Barbosa que, além da modinha brasileira, implantou na Côrte portuguesa a moda do lundu cantado a viola. No segundo volume da coletânea de seus versos (publicados postumamente), seis composições aparecem expressamente citadas como lundus. Ao comentar a supremacia do lundu sobre as danças em voga em Lisboa, diz Caldas Barbosa:
Eu vi correndo hoje o Tejo
Vinha soberbo e vaidoso;
Só por ter nas suas margens
O meigo Lundum gostoso
Que lindas voltas que fez;
Estendido pela praia
Queria beijar-lhe os pés
Se o Lundum bem conhecera
Quem o havia cá dançar;
De gosto mesmo morrera
Sem poder nunca chegar
Ai rum rum
Vence fandangos e gigas
A chulice do Lundum
Referências ao lundu são também encontradas nas Cartas Chilenas de Tomás Antônio Gonzaga, que começam a circular em Minas Gerais em 1787.
Aqui lascivo amante, sem rebuço,
À torpe concubina oferta o braço;
Ali mancebo ousado assiste e fala
À simples filha que seus pais recatam;
A ligeira mulata, em trajes de homem,
Dança o quente lundum e o vil batuque.
Num próximo passo, de canção solista o lundu transforma-se em música instrumental, ponteado à viola ou ao bandolim, ou executado ao cravo. Um dos mais antigos registros musicais desse tipo de dança encontra-se nas Canções populares brasileiras e melodias indígenas, recolhidas no Brasil por Martius[4] entre 1817 e 1820. Uma das peças é o Landum, Brasilianische Volktanz, composição na qual um pequeno motivo, construído sobre as harmonias de tônica e dominante, é executado em forma de variações. O lundu-dança continuou a ser praticado por negros e mestiços, enquanto o lundu-canção passou a interessar aos compositores de escola e músicos de teatro, onde era feito para ser dançado e cantado com letras engraçadas e maliciosas. Já em fins do século XIX, esse aspecto foi intensamente explorado por Laurindo Rabelo, o poeta Lagartixa que, acompanhando-se ao violão, depois de determinada hora improvisava, com facilidade, lundus especiais ouvidos só por homens
Como canção, o mestiço lundu fez grande sucesso no início do século XX, cantado em circos de todo o Brasil e em casas de chope no Rio de Janeiro. Referências clássicas do gênero são as gravações iniciais de discos realizadas para a Casa Edison pelo palhaço Eduardo das Neves, como a dos lundus Isto é bom, de Xisto Bahia, considerada a primeira obra a ser gravada na história da música popular brasileira, e o Bolim bolacho, de autor desconhecido.
Já a modinha, é considerada canto urbano branco de salão, de caráter lírico, sentimental. Em Portugal, a palavra moda designa canção em geral. É jeito luso-brasileiro de acarinhar tudo com diminutivos. A palavra modinha nasceu assim.
A modinha foi o primeiro gênero popular brasileiro a ser divulgado com sucesso fora do país, há 250 anos. Caldas Barbosa, para desespero dos eruditos poetas portugueses (Bocage, Nicolau, Tolentino, Filinto Elísio e outros), era uma verdadeira coqueluche nos saraus da corte, com suas modinhas e lundus. Depois dele, praticamente todos os poetas românticos do Brasil tiveram seus versos musicados: Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Castro Alves e outros. Até os modernos não escaparam da moda da modinha. Manuel Bandeira, Drummond e Mário de Andrade também forneceram poemas aproveitados pelos músicos. Chico Buarque, Vinícius de Morais, Juca Chaves, Baden Powell e muitos outros compositores de nossos dias fizeram modinhas. Ao finalizar o século XX, entre as canções escolhidas como as 10 melhores do período pela Academia Brasileira de Letras (então presidida por Nélida Piñon) e em comemoração aos 100 anos da instituição, incluía-se a modinha Chão de estrelas, de Sílvio Caldas e Orestes Barbosa, consagrando assim um gênero mais de duas vezes centenário. Mozart de Araújo, numa obra clássica sobre o tema [5], termina o estudo com as seguintes palavras: “Dizem que a modinha morreu. Ela não morrerá porque já não é mais uma canção, mas um estado de alma. Ela está na própria essência emotiva da nacionalidade.”
Na segunda metade do século XIX a história da música popular brasileira iria fixar os primeiros grandes nomes daqueles que iriam formar as bases do que é hoje considerada a nossa música popular. As populações dos burgos se somaram em cidades, das quais logo despontaram Salvador, Recife e Rio de Janeiro, todas com forte influência negra. Essas populações, agora como ingrediente urbano, demandavam novas formas de lazer, ou uma produção cultural. E essa produção se fez representar no campo da música popular pelos gêneros iniciais de lundu e de modinha, e a seguir pelo maxixe. Dentro desse quadro e época, começam a aparecer alguns vultos essenciais a serem aqui registrados.
Um dos primeiríssimos pode ser considerado Xisto Bahia (Bahia, 1841 – Caxambu, 1894), que retomou a tradição de Domingos Caldas Barbosa, cujas modinhas irônicas levadas à côrte portuguesa no século XVIII já se tinham transformado em árias pesadonas quando D. João VI aportou no Rio, em 1808, fugido com sua Corte da invasão promovida por Napoleão Bonaparte na Península Ibérica.
A partir de Xisto, começam a aparecer os grandes talentos de renome, na música popular brasileira, que também passa por uma transformação significativa. Isso porque começam a nascer os ritmos ou gêneros brasileiros, ou seja, a música gerada a partir da nossa especial miscigenação racial, jeito de ser, de comemorar a vida, de celebrar a alegria.
Na segunda metade do século XIX, a música ouvida pelas elites era, em geral, as óperas, as operetas e a música leve de salão. Os negros ou os brancos amestiçados das camadas baixas executavam e ouviam, via de regra, os estribilhos acompanhados por sons de palmas e violas. A tímida classe média – que começou a se incorporar no segundo império – ouvia apenas os gêneros europeus, ou seja, música leve dos salões das elites: a polca, chegada ao Brasil em 1844, a valsa, e ainda a schottish, a quadrilha, a mazurca. É nesse contexto que aparece o mulato Joaquim da Silva Callado (Rio, 1848 – Rio, 1880).
Flautista, com boa formação musical, Callado organizou os primeiros grupos instrumentais de caráter carioca e popular no Brasil: o choro, palavra que inicialmente indicava apenas uma reunião de músicos e só muito depois o nome do gênero musical. Era a música do gênio e da criatividade brasileiras. Seu conjunto mais famoso, formado por volta de 1870, chamou-se Choro Carioca.
O choro foi o recurso de que se utilizou o músico popular para executar, a seu modo, a música importada, que era consumida a partir da primeira metade do século XIX nos salões de baile da alta sociedade. A música gerada sob o impulso criador e improvisatório dos chorões logo perdeu as características dos países de origem, adquirindo feição e caráter perfeitamente brasileiros, a ponto de se tornar impossível confundir uma Polka da Boêmia, umaScottisch teuto-escocês ou uma Walsa alemã ou francesa com o respectivo similar brasileiro saído desses chorões que se chamaram Calado, Chiquinha Gonzaga, Anacleto Medeiros, Irineu Batina, Mário Cavaquinho, Sátiro Bilhar, Candido Trombone, Pixinguinha…
Entre as histórias sobre o nascimento do choro, conta-se que ele nasceu da reunião de três instrumentos: a flauta, o cavaquinho e o violão. Os instrumentistas, sempre os mais hábeis, reuniam-se informalmente, por pura diversão, para executar sua música carregada de sentimento, chorosa… Os instrumentistas, geralmente, eram pessoas humildes, funcionários da Alfândega e dos Correios e Telégrafos, ou da Central do Brasil, e o bairro do choro era, sem dúvida nenhuma, a Cidade Nova, Rio de Janeiro.
Aproximadamente em 1875, ainda nos forrós da Cidade Nova e nos cabarés da Lapa, surgiria outro gênero musical fundador da MPB: o maxixe.
Segundo José Ramos Tinhorão, em Pequena História da Música Popular, o maxixe “marca o advento da primeira grande contribuição das camadas populares do Rio de Janeiro à música do Brasil”. Já em História da Música Brasileira, Renato de Almeida diz ser o maxixe “uma adaptação de elementos que se fixaram num tipo novo, com uma coreografia cheia de movimentos requebrados e violentos, muitos deles emprestados ao batuque e ao lundu”. Mário de Andrade considera maxixe a primeira dança genuinamente brasileira, que, do ponto de vista musical, resultou da fusão do tango e da habanera pela rítmica da polca, com adaptação da sincopa afro-lusitana. Em fins do séc. XIX a dança chegou ao Teatro de Revista e aos clubes carnavalescos, sendo a ele acrescentados passos a que foram dados os nome de carrapeta, balão, parafuso, corta-capim, saca-rolha, etc. Data de então, provavelmente, o nascimento do maxixe cantado, e a aquisição pelas letras tanto de expressões da gíria carioca, quanto de um tom insinuante, picante, lúbrico, que lhe ficaram característicos, diferenciando-o de vez do tango e da habanera.
Inicialmente, para dançar o maxixe, os pares o faziam ao ritmo de tango, havaneira, polca ou lundu. Dessa variedade rítimica nasce o maxixe como gênero musical, cujas primeiras partituras com essa qualificação são impressas em fins do séc. XIX –– quando as casas editoras o reconheceram como gênero musical. O maxixe foi levado à Europa, onde alcançou relativo sucesso, em apresentações coreografadas pelo bailarino Duque, na França e na Inglaterra, respectivamente em 1914 e em 1922.
Mas, retornando aos decisivos momentos do final do século XIX nos quais se consolida a música popular brasileira: a partir de Callado, surge toda uma geração de chorões e de maxixeiros. O Teatro de Revista – cujo coração estava na Praça Tiradentes do Rio – era o grande centro consumidor e também irradiador da música popular desde as últimas décadas do século.
Dentre todos os pioneiros, todavia, duas chamas individuais logo se destacam dos demais: Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth. Chiquinha grandíssimo personagem de essência da MPB – comporia mais de 2 mil músicas para suas 103 operetas populares dos Teatros da Praça Tiradente. Nazareth – semierudito, segundo Mario de Andrade, seria um dos pais do choro e da valsa de temperamento carioca.
Dentro dessa linha dos primeiros compositores populares para a classe média então emergente, é importante ressaltar ainda o nome de Catulo da Paixão Cearense (São Luiz, MA, 1866, Rio, 1946), autor fundamental de tantas composições que se incorporaram à antologia maior da MPB.
A imorredoura composição de Catulo, O Luar do Sertão (1910, gravada pelo Mário para Casa Edison), é usualmente considerada o hino nacional dos corações brasileiros. A famosa peça trouxe a glória definitiva a seu autor e também um “grave desgosto”, como chegou a confidenciar ao pianista Mário Cabral: a acirrada disputa com o violonista João Pernambuco (João Teixeira Guedes, Jatobá, PE, 1883 – Rio, 1947), que se considerou desde logo o autor da música, fato veementemente contestado por Catulo. Aliás, João Pernambuco foi não só extraordinário músico, mas também autor de obra curta mas interessantíssima, na qual se destacava um clássico, o choro Sons de Carrilhão.
Enquanto Catulo era o grande sucesso na Capital Federal do país, um Rio ainda acanhado e que dava os primeiros passos para se modernizar como grande cidade (“quando o Rio se limpava da morrinha imperial”, no dizer de Carlos Drummond de Andrade), apareceu em 1912 um menino de calças curtas tocando flauta melhor que gente grande. Esse menino virtuoso viria a ser o herdeiro de toda tradição musical inaugurada e cultivada por Nazareth, Chiquinha, Callado e Catulo, e também seria – pelo menos ao meu ver – o estruturador e o patriarca de toda a música que viria depois dele: Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha.
A partir dos últimos anos do século XIX, as principais cidades brasileiras assistiram ao despertar da consciência das populações mais pobres na sociedade. Até 1888 (Lei Áurea), os escravos eram discriminados a ponto de estarem proibidos de manifestar sua veia musical, a não ser em grupos fechados – e até clandestinos. Já como trabalhadores livres da era republicana, eles começaram a disputar lugar na sociedade, o que, no campo do lazer, se evidenciou por uma crescente participação nos festejos carnavalescos.
O carnaval da Belle Époque, visto nas fotos de Augusto Malta e outros que registraram a virada do século XIX para o século XX, era uma estranha apropriação –– mais uma –– da classe média e da classe alta, numa imitação do carnaval europeu, com os préstitos, as batalhas de flores e as quase sempre grosseiras brincadeiras do entrudo –– as guerras com bexigas cheias de água, farinha, tinta, urina, entre outras. A população mestiça, integrada à estrutura econômica da cidade como ambulantes, empregados domésticos, operários das fábricas, além de pequenos burocratas, organizou-se em sociedades recreativas, inicialmente chamadas cordões carnavalescos, e posteriormente blocos carnavalescos, berço do carnaval de rua do Rio..
No ano de 1893 foram criados os ranchos, que passaram a sair no carnaval produzindo um tipo de música orquestral que geraria um dos gêneros musicais amoráveis da MPB: as marchas-ranchos. Registre-se aqui o nome do fundador do primeiro rancho, o bahiano Hilário Jovino Ferreira, que lhe deu o nome de Rancho Rei de Ouro.
No início conhecida também como marcha de rancho, começou como música produzida por grupos de instrumentistas, predominantemente de sopro, das chamadas “orquestras” dos ranchos carnavalescos cariocas de fins da primeira metade do séc. XX, com ritmo mais dolente que o das marchas comuns e maior desenvolvimento da parte melódica. A partir de fins da década de 1920, passa a ser composta por autores profissionais com a indicação de marcha de rancho, figurando como mais antigo exemplo conhecido dessa feição musical a “marcha de rancho com coro” intitulada Moreninha, de Eduardo Souto, gravada em 1927 no disco Odeon no. 123.208. Após experiências ainda presas à concepção das marchas de rancho (que pretendiam reproduzir a melodiosa e calma ondulação dos desfiles dos ranchos carnavalescos), o novo estilo encontrou seu modelo mais bem sucedido em 1938, na composição de Noel Rosa e João de Barro As pastorinhas, passando a definir-se como marcha-rancho.
A população mais pobre do Rio, especialmente os que descendiam dos guetos da escravidão e que habitavam os cortiços negros paupérrimos da zona da Cidade Nova e da Central do Brasil – a Praça Onze antiga era o coração daquela região, nas mesmas imediações onde hoje está o sambódromo Darcy Ribeiro – continuava a exercitar-se nos seus batuques e nas rodas de pernada e de capoeira. Eram, sobretudo, os bahianos e seus descendentes, que, da Bahia, vieram para o Rio de Janeiro, com o fim da guerra dos Canudos, direito que ganharam por lutarem nas tropas contrárias a Antônio Conselheiro; foram morar nos morros cariocas e, a exemplo do arraial do Bom Jesus, apelidaram o agrupamento de casas que foi se formando, então, de favela. Pois bem, esta parte da população não saía no carnaval de forma organizada, mas em blocos desordenados, cujos desfiles terminavam quase sempre em grandes brigas de capoeira e em “terríveis cenas de sangue”, segundo o cronista João do Rio, que, atento às evoluções urbanísticas do Rio, fez um paralelo curioso entre a Praça XI dos ex-escravos e a Avenida Central, inaugurada em 1902 e que ele considerava um traço de separação entre o Rio passado e o novo: “A avenida chic / Eu sou a Central / da elegância o Tic / Dou à capital”.
Da música à base de percussão e de palmas, produzida por esses negros com o nome de batucada, iria nascer o samba, palavra de origem africana (Angola e Congo), provavelmente corruptela da palavra semba, que pode significar, de um lado umbigada, ou seja, o encontro lascivo dos umbigos do homem e da mulher na dança do batuque antigo; de outro, tristeza e melancolia (ou quem sabe saudade da terra africana natal, tal como os blues nos Estados Unidos) –– como bem escreveu Caetano: “A tristeza é senhora./Desde que o samba é samba é assim”. Aliás, a expressão samba foi publicada pela primeira vez (3/2/1838) por Frei Miguel do Sacramento Lopes Gama, na revista pernambucana Carapuceiro; restringindo-se a definir, então, mais um tipo de dança ou de folguedo popular de negros.
Além dessas rodas de capoeira e de batucada, quase sempre realizadas nas ruas e praças daquelas imediações da antiga Praça XI, ficaram célebres as festas que se realizavam nas casas das até hoje celebradas Tias Bahianas (Tia Ciata – a mulata Hilária Batista de Almeida era dentre todas a mais festejada). Eram, em geral, grandes quituteiras que davam festas para comemorar as datas importantes do calendário do Candomblé. Os festejos duravam até uma semana: os pagodes, justamente nas casas das Tias Bahianas, como eram carinhosamente apelidadas, ocorriam em dois tempos, segundo me informaram em depoimentos que colhi para o Museu da Imagem e do Som entre 1966 e 1967 não só Donga e João da Bahiana, mas também Pixinguinha e Heitor dos Prazeres, todos freqüentadores e – à exceção de Pixinguinha – filhos de mãe de Santo. No fundo da casa, a devoção aos orixás, preservando o ritual das datas do Candomblé. Acabadas as obrigações, os pagodes tinham lugar, mas já em outros cômodos, geralmente nas salas da frente dos cortiços decadentes ou dos sobradões abandonados pela burguesia, então em busca de novos bairros da moda, como Botafogo, Laranjeiras e Humaitá.
Mas o samba só veio a ser registrado com esse nome em disco pelo quarto desses pioneiros, Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga (Rio, 1899 – Rio,1974). Filho de Tia Amélia mas também freqüentador dos folguedos de Tia Ciata, Donga gravou uma música feita por ele e pelo cronista carnavalesco do Jornal do Brasil, Mauro de Almeida, o Peru dos Pés Frios, baseada em motivo popular, a qual intitularam Pelo Telefone. Esse fato – aparentemente banal – teria a mais profunda repercussão tanto para a história do samba (apesar de Pelo Telefone ser mais para maxixe do que para o samba, tal como hoje o reconhecemos), quanto para a definição do começo da profissionalização da MPB. Era janeiro de 1917, às vésperas, portanto, do carnaval, e a primeira providência do Donga foi registrar música e letra na Biblioteca Nacional, o que equivalia a tirar patente da música. Trocando em miúdos, significava que uma música popular estava a atingir o estágio importante de produto comercial passível de ser vendido e de gerar lucros. Pelo Telefone, gravado pela Banda Odeon e logo depois pelo Bahiano da Casa Edison, deu a Donga as glórias da posteridade, como o primeiro samba gravado, inaugurando a palavra samba como gênero musical. Que logo depois, com sua consolidação, seria a representação própria da música popular no mundo inteiro.
Não era assim, contudo, quando as Escolas de Samba se iniciaram como agremiações carnavalescas. Na antiga Praça XI, centro dos desfiles, a música ouvida era os sambas que hoje intitulamos “de quadra”, ou seja, peças curtas e que desfiavam temas genéricos, ou numa parte (o mais comum) ou nas duas partes, sempre cantadas pelas pastoras. Um, dois ou até três sambas podiam ser apresentados, como me testemunharam Ismael Silva e Cartola ambos os fundadores das Escolas, especialmente o segundo, com a epifania de sua Mangueira. De Ismael, aliás, o Se você jurar, entoado pela “Deixa Falar” do Estácio, sairia de dois desfiles para ser gravado triunfalmente pela dupla Francisco Alves e Mário Reis. Muitos críticos apontam o aparecimento do samba descritivo, precisamente o samba-enredo, a partir do Estado Novo de Getúlio Vargas. Os compositores das Escolas eram instruídos pela Prefeitura do Rio a elegeram enredos que elogiassem as grandezas (ou belezas) do Brasil e de seus principais personagens. Seria essa data – um pouquinho mais, um pouquinho menos – a mesma do advento do samba-exaltação Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, que correria mundo, inspiraria tantos outros compositores e – o mais curioso – forneceria a fórmula ufanista para as alas dos compositores das Escolas. Que caía como uma luva para o governo instalado pelo autoritarismo nacionalista da Constituição de 1937.
Outra observação que deve ser proposta: o ato de manusear a história do país, seus heróis e mitos deu às escolas e aos compositores uma possibilidade de ascensão sócio-cultural. Da qual – não nos esqueçamos – eles foram sumariamente afastados nas duras lidas da vida de exclusão, de proletariado, do fronteiriço da miséria em que viviam, nas fraldas dos morros e dos casebres mais desassistidos da população urbana carioca. Não vejo, como certos sociólogos da música popular, o desfile (de antes e de agora) como uma escala de redenção para o nosso antigo lumpesinato musical. Mas sim como uma possibilidade – tão somente – de ele ser mais feliz. Ao menos por algumas horas, nos dias de carnaval. E, convenhamos, para quem não tem nada mesmo, a felicidade de ascender por algumas horas que seja já é fato irradiador. E inesquecível para quem possa detê-lo. Mas não uma revolução proletária… Como, por exemplo, a sonhada nos anos 30-40 por Paulo da Portela, mas só que com outras armas e estribada na ideologia formal (no caso dele, a do Partido Comunista Brasileiro). E não ainda na ideologia do prazer, do canto, da dança. O Paulo Benjamin de Oliveira foi o compositor do primeiro samba de enredo (Teste ao Samba, 1939), claro que para sua Portela de coração, que neste ano conquistou o primeiro lugar.
Os anos 60 trariam um outro degrau de consciência muito promissor para as músicas das Escolas. Aliando-se à renovação estética proposta por Fernando Pamplona e sua histórica equipe de carnavalescos, o Salgueiro armou, a partir de Zumbi dos Palmares, uma série de enredos celebrando a cultura negra e seus personagens, como Chica da Silva e Chico Rei. E ganhou, para além da consciência das ancestralidades raciais dos protagonistas das próprias Escolas (os negros e mulatos em sua larga maioria), a auto-estima de suas origens e de seus líderes históricos, tão esquecidos pela cultura formal, quando não desprezados pela academia de então.
O Salgueiro se inovava e revoluciona o Desfile dentro do sutil tabuleiro de possibilidades que iria determinar o futuro apogeu das Escolas menos de meio século depois. O Sambódromo Darcy Ribeiro define a maturidade das Escolas de Samba, hoje o maior espetáculo popular do Brasil, a partir da cidade do Rio.
Embora consagrado dentro e fora do país nas últimos três décadas, o hoje monumental espetáculo foi objeto, ao longo de seu desenvolvimento desde 1930, de restrições e de incompreensões, tanto por parte da crítica especializada, quanto de alguns segmentos do saber.
Mas a história do começo de nossa música popular é, também, a história dos preconceitos e dos narizes retorcidos da cultura oficial. Os muitos sofrimentos impostos aos músicos e poetas do povo espraiavam-se pelas ruas das cidades do Brasil. Sofrimentos que – como me testemunharam pioneiros do samba e do choro, como os já citados João da Bahiana, Pixinguinha, Donga e Heitor dos Prazeres – culminavam com o fato de serem presos nas ruas apenas pelo pecado de portarem um violão, “coisa de capadócio, de desocupado, da negralhada”, como registrou o cronista carioca João do Rio. Ou de serem obrigados a entrar pela porta dos fundos do Hotel Copacabana Palace (Rio) por serem músicos e “ainda por cima negros”, lá por volta dos anos 20. Isso depois de os Oito Batutas de Pixinguinha terem excursionado, e com sucesso, a Paris, centro da cultura e da insolência comportamental dos “années folles”.
É também a história do começo da profissionalização dos primeiros sambistas da MPB, nos anos 20, com Sinhô (o Rei do Samba), Cândido das Neves, Aracy Cortes, Ismael Silva e seu grupo do Estácio, que não só dariam a forma definitiva ao samba ainda maxixado de Donga e Sinhô, como ainda fundariam a primeira escola de samba (a “Deixa falar “, em 1927). Como ainda é a história da saga gloriosa do rádio no Brasil, inaugurado pelo gênio de Edgard Roquette Pinto, ( um herói modesto e cativante que ainda precisa ser avaliado melhor ao começo deste século) e desenvolvido pela esperteza política do estadista Vargas. O rádio (a partir de 1923) e a gravação elétrica (a partir de 1928) fizeram florescer a época de ouro da MPB, os anos 30, em que irrompem talentos nos quatro cantos do país, especialmente no eixo Rio-S.Paulo. Dele saem para o mundo Ary Barroso e Zequinha de Abreu, e, especialmente, Carmen Miranda, uma fogueira tropical que fez crepitar a Hollywood bem comportada e rigorosamente padronizada dos anos 40.
O sucesso de Carmen na América antecede de poucos anos a história do movimento da bossa-nova no mercado mundial, que consolida, de uma vez por todas, o prestígio internacional da MPB. A ponto de ejetar nomes como Tom Jobim, João Gilberto e Vinícius de Moraes para as estratosferas do olimpo musical do mundo.
A bossa-nova, aliás, foi antecedida – e até provocada, de certo modo – pela enxurrada dos sambas-canções que inundou a década de 50, transformando a MPB num rio “noir” de lágrimas, fossa e dores de cotovelo, muitas delas escritas por talentos fulgurantes como Antônio Maria, Lupicínio Rodrigues, Dolores Duran e até Caymmi, Braguinha e Ary Barroso, que se destacavam da mediocridade “noir” em que patinava o gênero lacrimejante. Como também se destacaram , nos anos 50, antecedendo a bossa-nova (criada pelo charme da classe média da zona sul do Rio de Janeiro) as figuras solares do pernambucano Luís Gonzaga e do paraibano Jackson do Pandeiro, que trouxeram para o Brasil o melhor da carga energética do baião, da toada e do coco nordestinos.
Esses últimos anos configuram e dão seguimento, com uma certa eloqüência, a todo o legado da MPB, hoje mais do que nunca o produto número um da pauta de exportação cultural com que conta o país ao começo do século XXI.
Estamos hoje melhores ou piores, em música popular? Afastando-me do pecado do maniqueísmo e da tentação da crítica individualizada, eu diria que a MPB, vai, como quase sempre esteve, muito bem, apesar das diversidades surpreendente de sua estrutura, com a erupção do funk, do rap, do axé e de outros gêneros musicais por vezes polêmicos ante a crítica especializada.
Mas, como diz o ditado, quem puxa aos seus não degenera. E aí está a miscigenação brasileira, tão cativante e tropical, a interinfluenciar e consolidar a herança dos ritmos e do espírito mulato do Brasil.
Ricardo Cravo Albin
Presidente do
Instituto Cravo Albin